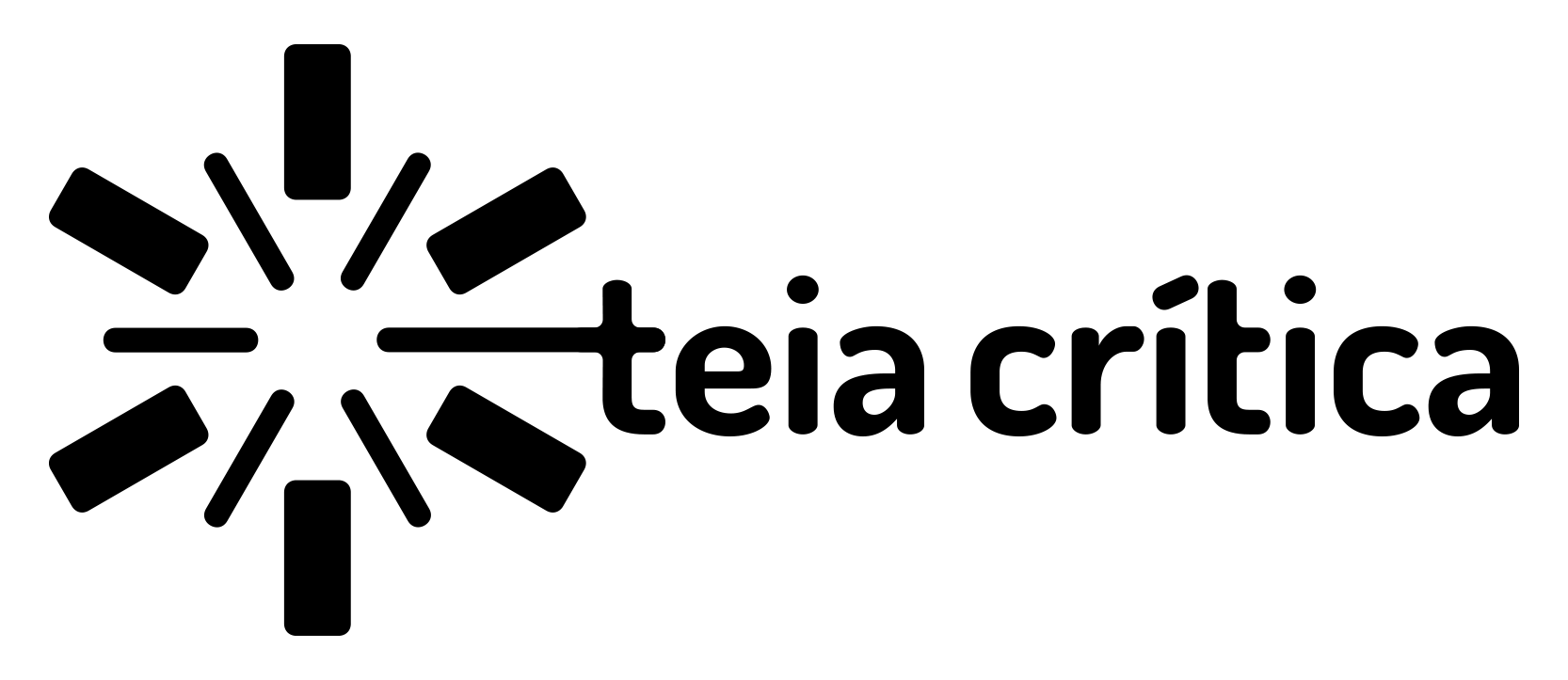Obscura luz, a exposição de Cildo Meireles de 1983, reuniu algumas obras de extrema importância para obra do artista, caso do objeto Obscura luz, pela alusão ao cinema e o mergulho nos paradoxos, dos objetos semânticos Percevejo cerveja serpente e Porta-bandeira e seus curtos-circuitos de linguagem; de Immensa e Parla, por todas as questões também de linguagem, mas a partir da escala e do diálogo com a história da arte – estas abordadas lindamente por Thiago Fernandes em seu ensaio para esta Teia Crítica (leia aqui). O que mais me acende a curiosidade nesse conjunto de trabalhos, no entanto, são as três Legendas apresentadas por Cildo nas duas aberturas praticamente simultâneas da exposição, uma na galeria Saramenha, no Rio de Janeiro; outra na galeria Luisa Strina, em São Paulo.
O artista deu o nome de Legendas a três ações distintas – Aladim, O malabarista e Trabalho zero – performadas durante a inauguração. Recebiam o nome de “legendas”, porque, para ele, seriam comentários de outros trabalhos presentes na individual. Para mim, comentários sobre toda a sua obra e, mais do que isso, sobre o modo como Cildo lida com o debate sobre o seu trabalho: desviando de definições definitivas. Cada figura presente nas Legendas aponta para aspectos importantes em sua trajetória: o estivador de Trabalho zero carrega o fardo do mundo (ou nenhum fardo, pelas leis da física) porque está parado; a fascinante figura do Malabarista cria espaços virtuais com as bolas girando no ar; o gênio não aparece para Aladim, e seu poder e sua mágica reside em esfregar sua lâmpada continuamente. Fricções. Ficções.

É emocionante a escolha de Cildo em “comentar” os trabalhos de Obscura luz com outros trabalhos, desviando dos discursos que buscariam definir cada obra. As Legendas são ação e literatura, mas também são desvio – imagem e espaço que tantas vezes se fez presente na obra do artista, prática de um criador-narrador que opta constantemente por conduzir o observador de sua obra ou o interlocutor de suas conversas para um labirinto. Ciente do risco, opto pela mesma tática, comentando as Legendas de Obscura luz – e toda uma genealogia possível de trabalhos “narrados” por Cildo – a partir de uma única obra: Marulho (1991-97).
+++
Marulho é uma instalação constituída por um deque de madeira que se projeta na direção de um horizonte vazio. Essa espécie de “fundo infinito” em que as paredes laterais vibram em azul, por conta do rebatimento das cores do chão. No piso abaixo e à frente do deque estão espalhadas 17 mil fotografias, montadas como se fossem um livro aberto, e os vários tons de azul vêm de imagens diversas de água. O visitante de uma exposição onde está Marulho é convidado a contemplar esse mar de livros, que também é um mar de imagens que ele não consegue fixar, pois elas são páginas abertas em fluxo. As páginas abertas como ondas que reviram essas imagens de água, de modo a torná-las movimento e labirinto.
Enquanto caminha em direção à beira do deque, para assim poder mirar a múltipla representação da água, o visitante/observador ouve um som que, de início, parece o barulho da própria maré, das ondas do mar. Com um pouco mais de tempo dedicado à experiência, é possível notar que a gravação é constituída pela repetição da palavra “água” dita em dezenas de idiomas, e vocalizada por um coro de vozes distintas. O que se escuta, na maior parte do tempo, é um murmúrio indistinto, feito da sobreposição de várias “águas”, mas a concentração em determinados pontos da banda sonora pode permitir que se distinga uma ou outra dentre as múltiplas falas. Estas vozes pinçadas da maré de falas dizem muito sobre a história de quem consegue escutá-las, já que a apreensão das múltiplas “águas” pode variar de acordo com a capacidade de o ouvinte entender as traduções para a palavra. Porém, mesmo para quem fala apenas um dos idiomas do áudio, ou nenhum deles, consegue perceber que o som – “marulho”, mar e barulho – diz respeito a um embaralhamento de fronteiras e ao poder de infiltração e de limite “mole” e fluido que a água tem.
O murmurar da água, vocalizada como palavra em suas múltiplas traduções, se sobrepõe à visão da água, no painel de fragmentos aquáticos selecionados em bancos de imagem. Há duas vertentes de representação sobrepostas nesse trabalho – imagem e palavra. Há também duas progressões para o infinito. A primeira no campo sonoro, já que a gravação pode ser ampliada com quantas traduções de “água” forem encontradas e acrescentadas pelo artista; a segunda no campo visual, já que a utilização da imagem de um livro, somada à ideia de água, insinua o hipertexto e o desdobrar de caminhos no espaço e no tempo, com a enunciação dos labirintos e do pensamento bifurcado que marca toda a produção de Cildo.

Há ainda uma memória coletiva que pode ser acessada pelo trabalho: a dos oceanos e mares como fronteira e estrada móveis, através das quais muitos povos transitaram entre continentes, movidos por diferentes diásporas – entre elas a guerra, a fome e, no caso específico da formação brasileira, o exílio bárbaro da escravidão transatlântica. Além e ao lado desse caminho histórico, Marulho é atravessada por um conteúdo simbólico, em que o mar pode ser visto como o grande misturador de línguas, uma espécie de continente contínuo e fluido a mediar os encontros entres os idiomas. Na maior parte das vezes, é claro, estes encontros não foram pacíficos e afirmaram a hegemonia da fala do predador sobre os que ele violentava, como aconteceu – muito mais lentamente do que supomos – com a chegada do invasor português no território que seria desenhado e chamado de Brasil.
O genocídio de centenas de nações indígenas não se deu apenas na carne; aconteceu simultaneamente no campo da cultura, com o sequestro das maneiras com que expressavam e nomeiam seus mundos. O português – como figura do colonizador e como língua – depredou, estigmatizou e anulou as distinções idiomáticas e culturais entre as nações africanas e escravizadas, obrigadas a erguer um país com seus corpos amordaçados, impedidos de fazer vibrar a própria voz, e seus saberes e tecnologias roubados e achatados pelo trabalho servil. Mas o que o “marulho” de Cildo nos obriga a lembrar, na batida das palavras como ondas, é que nem todas as palavras de um idioma morto ou sequestrado desaparecem. A língua, como o mar, tem suas idas e vindas, revolve corpos e resíduos que pareciam desaparecidos e os regurgita na beira, modificados pelas algas e pela areia.
Nem todas as palavras do idioma morto ou sequestrado pelo idioma vencedor desaparecem. Algumas seguem assombrando a língua hegemônica como uma lembrança constante da dizimação do seu cosmos. Uma dessas palavras é “calunga” (ou “kalunga”), que sobrevive em cânticos de origem quilombola, como o jongo, e em “pontos” de umbanda e outras religiões de matriz africana no Brasil. Vinda do quimbundo, um entre as centenas de idiomas africanos reduzidos a farrapos no Brasil Colônia, “calunga” era um termo associado a tudo que tinha uma ordem de grandeza, que podia expressar imensidão: os deuses e a energia ordenadora de tudo; o mar; a morte. Com o passar do tempo, os significados do quimbundo foram sendo transformados e os descendentes do povo falante dessa língua, e aqueles que com eles conviviam, passaram a se referir ao mar como “Calunga grande” e ao cemitério como “Calunga pequeno”. Já “calungas”, no plural, passou a definir o conjunto de espíritos ou entidades, em especial os chamados pretos-velhos.
Marulho abarca as dimensões simbólicas e históricas de “calunga”, tanto como túmulo de línguas, quanto com o revolver e o renascer delas, um ciclo abastecido pela natureza incontinente e indefinível e pelo horizonte infinito proporcionando pela água. Escolho estrategicamente aproximar a obra de Cildo de narrativas diaspóricas ou originárias porque, embora tenha havido grandes avanços nas últimas duas décadas, ainda são saberes e modos de olhar para o mundo recalcados nas universidades, nas práticas curatoriais e na escrita crítica e histórica da arte.
Marulho pode nos trazer “calunga”, com as vozes emboladas e murmuradas em ondas soando como um cântico fantasma, o eco de muitos exílios ou um mapa de falares cheio de atritos, silêncios e bifurcações. Mas o trabalho também se apoia em sua construção formal, e ela nos leva, como é como é frequente no modo de criar de Cildo, para as sobreposições (no caso da obra do artista, mais correto talvez fosse escrever “sobre-oposições”). Marulho conta com a maré da sinestesia, em que audição e visão são convocadas em rede. O deque da obra aponta para o horizonte azul e infinito, mas forma uma encruzilhada de sentidos. O rumor das águas que são ditas confirma nos ouvidos a maré visual feita de imagens, com cada livro revelando apenas duas de suas páginas. Mas, se o coro pode formar um circuito com as imagens, pode, na mesma medida, criar um curto-circuito com elas. Os lapsos e ruídos causados tanto pelas traduções reconhecíveis quanto pelos vocábulos não identificáveis como “água” fazem com que a audição seja estrangeira da visão, e vice-versa.
Por tudo isso, Marulho é também marola: movimentos quase imperceptíveis, mas muito significativos no fluxo das águas; aroma residual da fumaça tragada em busca de outras ondas. Ao longo de sua importante carreira, Cildo tem sido um insistente produtor de marolas na linguagem, frequentemente apoiando seu trabalho na estrutura viva da própria língua, com seus paradoxos e lacunas, para criar as fricções e evidenciar lastros históricos e simbólicos. Em minha tese de doutoramento pela Escola de Comunicação da UFRJ, escolhi a expressão Terceira margem, tirada do conto de Guimarães Rosa A terceira margem do rio, o título de meu mergulho de um Cildo narrador, reinventor de linguagens. A água, presente em trabalhos como Marulho, Rio oir e Chove chuva, me parece crucial para que entendamos as dobras e a maleabilidade da linguagem, assim como o fogo, presente literal ou simbolicamente em Tiradentes: totem em homenagem ao preso político (1970), Cruzeiro do Sul e Sermão da montanha: Fiat lux nos fala da condensação e da transformação a partir de uma alquimia das formas e dos sentidos, a partir da fricção da experiência.

Marulho também se aproxima de outros trabalhos que usam a sobreposição de palavras e sons como uma forma de criar um desvio, um plano virtual entre isso e aquilo – a tal “terceira margem”. Sal sem carne (1970) é uma obra fundamental para que se entenda as motivações de Cildo como artista, e nela vemos as vozes da procissão de homens e mulheres brancos do Centro Oeste Brasileiro com a dos indígenas kraô que seus antepassados haviam tentado exterminar – um massacre que o indigenista Cildo Meireles, pai do artista, conseguiu levar criminalizar, um feito inédito do Brasil dos anos 1950.
Outra obra próxima de Marulho é Babel, torre de rádios que hoje integra o acervo da Tate Modern e nos ajuda a entender como Cildo tira partido da narrativa bíblica para falar da cassação das vozes pelo sistema financeiro global. Numa torre com rádios mais ou menos novos, e mais ou menos potentes, fala mais alto aquele que é mais robusto tecnologicamente. Em contrapartida, na marola de linguagem criada pelas múltiplas vozes, vez por outra o ruído de um rádio antigo invade e subverte a lógica do “falar mais alto”, ativa memórias pessoais, cria vínculos afetivos a partir de uma canção, subverte hegemonias.

Cildo tem roçado a linguagem na “terceira margem”, e suspeito que sua canoa a trafegue nessa fronteira mole – sem ancorar em um lado ou em outro – como a embarcação da própria linguagem, e ainda como a jangada da vida com suas múltiplas experiências. Uma canoa feita só para um, como frisa Rosa em seu conto, porque a experiência com a linguagem, mesmo quando ancorada em um patrimônio coletivo, como as línguas ou as culturas, será sempre permeada por uma percepção única, individual, em determinado tempo e espaço – o rio que nunca se repete, de Heráclito.
Mirando o mar de livros de Marulho podemos pensar em Calunga, mas também em Colombo, Cabral e em um certo Bispo Sardinha, devorado pelos tupinambás, o que pode nos levar, remando a canoa de Guimarães Rosa, para oceanos ficcionais, para as travessias de marés e línguas contidas no trabalho como uma Odisseia. A primeira grande história de ficção daquilo que aprendemos a chamar de Ocidente é uma viagem predominantemente marítima. Ao imaginar as aventuras de seu herói, Homero, autor que pode ser ele mesmo um emaranhado de histórias, constrói um personagem que se expande para dentro de si mesmo a partir de trocas culturais.
Ulisses é corajoso e inquieto, mas é, acima de tudo, um curioso. Ciente de que o canto das sereias pode arrastar toda a tripulação que viaja com ele para o fundo do mar, ele veda os ouvidos dos companheiros com cera no trecho da viagem que pode soar ameaçador. Mas não providencia tampões para si mesmo: no Canto XII da Odisseia, ele pede que os marujos o amarrem no mastro de um navio e não o soltem sob nenhuma hipótese.
Mas vós com laços estreitíssimos deveis amarrar-me, para que eu fique seguro, de pé no mastro do navio; para isso as cordas me prenderão. E se eu vos suplicar, se vor ordenar soltar-me, com nós mais numerosos, apertai-me.
Odisseia, Canto XII
Ao usar a estratégia, Ulisses não abre mão da experiência de ouvir as sereias; não quer deixar de roçar este outro mundo, mas quer conseguir voltar para o seu. Amarrado ao mastro, está na “terceira margem”, engolfado e atraído por uma espécie de ímã, de carga atrativa, mas mantendo-se de alguma forma atado ao seu contrário.
Cabem oceanos inteiros nessa passagem de Homero, da metalinguagem para a vivência da arte e da literatura, rasgos no real, às discussões sobre loucura e alteridade (outras versões da linguagem), algo também tão caro ao processo criativo de Cildo. Essas águas literárias também lambem Marulho, e não parece acaso que o artista tenha transformado água em livros, para em seguida transformar livros em mar, um ciclo que nos deixa na terceira margem de Rosa, mas também nos leva a Jorge Luis Borges, e à ideia do escritor argentino sobre a biblioteca como o mais magistral dos labirintos – a biblioteca como um oceano infinito, e também não é acaso que Borges tenha sido um grandioso leitor de Homero.
Mais do que uma viagem sobre conquistas geográficas e a ampliação de horizontes territoriais, a Odisseia é o relato a respeito de um homem que se expande para dentro de si mesmo, a partir do contato com experiências de viagem muito distintas do que havia vivenciado em seu lugar “de origem”. As transformações são tantas que Homero usa um recurso metafórico quando Ulisses finalmente volta para casa, depois da Guerra de Troia. Ele chega a Ítaca como forasteiro, já que entra na cidade natal disfarçado. Depois de tantas peripécias, é uma espécie de exilado de si mesmo já não corresponde ao Ulisses que seus conterrâneos conheceram. Aceita então o desafio lançado por sua esposa, Penélope, que tenta todos os ardis para adiar o casamento com outro homem, imposto por seu pai, Telêmaco. ela propõe que os pretendentes tentem por uma nova corda no arco que era utilizado pelo marido, sabendo que a madeira é rígida demais e pouquíssimos teriam condições de executar a tarefa. Ulisses cumpre a meta, recuperando a companheira e sua antiga posição. Mas, ao conseguir por a corda do arco, já o faz com um outro dele mesmo, alguém que tem muito de si e muito do que foi conquistado depois de deixar sua casa.
As sereias não são os únicos seres inumanos que Ulisses conhece em sua viagem. Um dos perigos mais radicais ocorre logo no início da Odisseia: o encontro com os Lotófagos, um povo gentil, pacífico e vegetariano, que não pretende matar e nem devorar o herói e seus companheiros, mas os ameaça com um mal enorme: o esquecimento, efeito do loto, fruta que consomem sem parar. Escapar do esquecimento é essencial para a saga: como o protagonista poderia narrar seus feitos ao voltar para casa? Esse regresso é o trecho mais importante da viagem, a volta no arco do infinito, pois é com ele que se dá a narrativa, é com ele que se acessa a memória.
Desde suas primeiras Proposições até grandes instalações como Marulho ou Babel, Cildo tem nos ensinado a importância de narrar. A presença de um artista-narrador é evidente em Inserções em circuitos ideológicos (1970), tanto na pergunta “Quem matou Herzog?”, do Projeto Cédula, quanto na receita para um coquetel molotov caseiro ou na lista de desaparecidos políticos, algumas versões dos impressos nas garrafas do Projeto Coca-Cola. O narrador deixa de estar apenas insinuado no já citado Sermão da montanha: Fiat lux (1979), em que trechos da última pregação de Jesus aos seus discípulos foram afixados em espelhos. O narrador é presença-ausência evidente nas Legendas de Obscura luz, com as ações e seus espaços-tempos virtuais vertidas em comentários de outros trabalhos reunidos na exposição de 1983. O narrador tenta resignificar corpos torturados e recalcados nos importantíssimos Tiradentes: totem em homenagem ao preso político e Sal sem carne.

Um grande leitor, de teorias da física quântica à ficção latino-americana, Cildo sabe que narrar é a forma de transformarmos a experiência vivida em nosso mundo, nossa linguagem. E isso necessariamente ocorre depois que a tal experiência (ou ideia) é filtrada pelo repertório da língua e o filtro da memória. A oralidade, presente em muitos dos trabalhos do artista, é a última fronteira da materialidade, a terceira margem entre o universo ao nosso redor e o mundo de imagens que nos constitui subjetivamente. A língua é a barca que permite esse trânsito, uma espécie de catalisador que alimenta, viabiliza e eventualmente perturba o circuito. Obras como as Legendas ou Marulho evidenciam isso de modo muito direto, mas muito lírico.
Nas Legendas, é bonito pensar nas obras que “falam” de obras, negando-se no fundo a falar, a explicar verbalmente o que as “colegas” ou “vizinhas” de exposição querem dizer. Labirinto. Em Marulho, ao começar a discernir as vozes inicialmente submersas no murmúrio indistinto de linguagens, percebemos as águas que nos pertencem, aquelas que conseguimos ouvir claramente, pelo fato de conhecermos o idioma, decodificarmos o vocábulo. Mas somos estranhamente atraídos pelas que não conhecemos, desviando a atenção do que está à nossa volta, envoltos na marola do estranhamento. Canto das sereias.